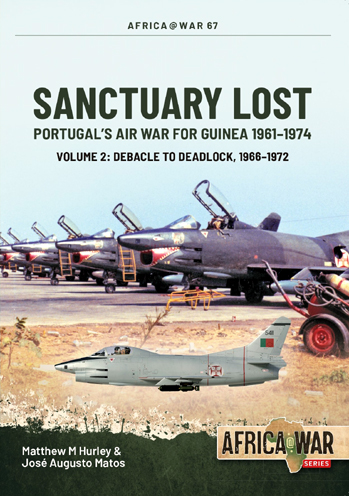Como o dissemos na altura, é uma peça antológica, é um documento de belo recorte literário e de mordaz ironia, senão mesmo de delicioso sarcasmo, sob a forma de carta aberta aos dois políticos que formataram este país e este povo, durante mais de meio século, legitimando uma guerra, de longa duração, a milhares de quilómetros de casa, e para a qual ambos foram totalmente incapazes de encontrar uma inteligente e honrosa saída política...
Mas é também uma carta de confiança no futuro, de confiança em Portugal, e nos portugueses, de confiança e de orgulho na geração, a nossa, que soube fazer a guerra e a paz, independemente dos efeitos perversos, contra-intuivos, não-esperados, que teve a descolonização, um processo em grande exógeno, sobre o qual Portugal de 1974/75 não podia ter grande controlo:
(i) Introdução
António Graça de Abreu, ex-alferes miliciano na Guiné-Portuguesa, humilde cidadão que teve a ventura de nascer no ano de 1947, durante a longa jornada autocrática de V. Exª., Sr. Presidente do Conselho Dr. António de Oliveira Salazar, e depois de viver extremadamente os últimos anos da ditadura mole e pouco iluminada de V. Exª., Sr. Prof. Marcello Alves Caetano, também Presidente do Conselho, confessa, do fundo das circunvoluções do seu desgastado coração, que anda há um ror de anos com vontade de vos escrever.
A primeira dificuldade, para além da minha inabilidade e ausência de qualidades para me dirigir a tão excelsas e ilustres figuras da nossa História Contemporânea, tem a ver com o embaraço de enviar esta carta para o espaço adequado. Qual o lugar onde hoje se encontram, Excelentíssimos Dr. Salazar e Dr. Marcello Caetano? No fofo azul do Céu, nas agruras amarelas de uma passagem prolongada pelo Purgatório, nos calores vermelhos do Inferno?
Como não sei qual foi o destino que para vós Deus escolheu (dependente por certo de tudo quanto executaram ou mandaram fazer na vossa breve/longa vida terrena), envio esta carta para o blogue Luís Graça & Camaradas da Guiné, na certeza de que terá um molho bem cheio de leitores, gente de excelente qualidade, e que V. Exªs., onde quer que estejam, a irão ler.
Este blogue do Luís Graça na Internet – coisa que não existia no tempo de vossas vidas– é um imenso sucesso de comunicação. São testemunhos de ex-combatentes da guerra na antiga Guiné Portuguesa, trocas de opiniões, entendimentos, desentendimentos, desabafos, uma espécie de terapia colectiva, muitos anos após o regresso dessas paragens quentes e amargas que nos marcaram a todos.
A segunda dificuldade, ao escrever esta carta, prende-se com o modo de vos tratar. “Excelências, Senhores Presidentes do Conselho, Prof. Dr. Salazar, Prof. Dr. Marcello Caetano”? Todas estas denominações vos pertencem, associadas à importância e dignidade dos cargos que, em ditadura, ocuparam ao longo de tantos anos.
Ora, há uns três meses atrás, o António Lobo Antunes, ex-oficial miliciano médico em Angola, 1971/1973, na crónica que assina na revista Visão, escreveu um texto algo zangado com Deus que, no início de 2009, lhe levou dois dos seus melhores amigos. E António Lobo Antunes resolveu tratar Deus por tu. Ele é um pouco, ou muito despassarado, mas enfim…
Eu também tenho as minhas guinadas e manias, mas pairo baixo, a razoável distância do autor de Os Cus de Judas. E os Profs. Salazar e Marcello também não são deuses.
Não me levem a mal por, em bicos de pés no alto do meu banquinho de escritor pequeno e medíocre, (mas com quinze livros publicados), desejar tratar-vos igualmente por tu, com todo o respeito. Mas acho que não sou capaz.
(ii) A História
O nosso Portugal é uma das nações mais antigas da Europa. Fechados neste rectângulo, de costas voltadas para Espanha, tínhamos o oceano diante de nós. E, a partir do século XV, antes de quase todos os outros povos, embarcámos na ousadia e na loucura de navegar o mar.
Depois de descobrirmos mais de meio mundo, face à pequenez do Portugal europeu, alimentámos naus e naus carregadas de mitos e sonhos. O bom do padre António Vieira (1608-1697) acreditava ainda num impossível Quinto Império lusitano espalhado pelo mundo e falava de nós como os que “têm a terra portuguesa para nascer e toda a terra para morrer”.
No século XIX construímos a ideia irrealista de um mapa “cor-de-rosa” a unir, sob domínio português, as terras de Angola e Moçambique. Na I Guerra Mundial (1914-1918) enviámos forças expedicionárias para França, para a Flandres, entre outras razões, para mostrar que tínhamos força (não tínhamos!..) e que outras potências europeias seriam mal sucedidas se algo fizessem para se assenhorearem das nossas colónias.
Em 1953, escrevia o general Norton de Matos, em choque aberto com V. Exª., Dr. Salazar, e que mais tarde haveria de se candidatar a Presidente da República pela chamada Oposição:
Tudo isto V. Exª. conhecia, Dr. Salazar e, na linha do pensamento tradicional português e até do de alguns dos vossos opositores, Portugal afirmava-se “uno e indivisível”, estender-se-ia do Minho a Timor, eram “muitas raças, uma só nação”. Uma utopia, um sonho lindo e perigoso, inevitavelmente condenado pelos ventos e avanços da História.
A partir dos anos sessenta do século XX, quase todas as colónias das nações europeias em África transformaram-se em países independentes. Sabemos hoje que muitas dessas independências foram prematuras e constatamos como muitos dos pobres povos dessas terras, libertos do nada meigo jugo colonial, têm sido tratados pelos seus governantes africanos e chefes associados ao tribalismo, à incompetência, à corrupção, ao esmagamento dos mais elementares direitos humanos.
No que a Portugal diz respeito, naquele fatídico ano de 1961, perdíamos a Índia e logo de seguida iniciava-se a luta armada em Angola, com o massacre pela UPA (União dos Povos de Angola) de milhares de portugueses inocentes.
(iii) A Guerra
“Orgulhosamente sós”, embarcámos aos milhares, de armas na mão para lutar contra o “terrorismo” em Angola. Em 1963, com o eclodir dos conflitos armados na Guiné e em Moçambique, novos espaços de guerra se abriram para os portugueses. Os chamados Movimentos de Libertação organizavam-se, contavam com poderosos auxílios externos (União Soviética, China, etc.) e Portugal fez um esforço tremendo para combater, com algum êxito, esses guerrilheiros que acreditavam lutar por um futuro melhor para a Pátria deles e queriam pôr fim a quatro séculos de mau colonialismo. O sangue, a dor, a morte passaram a fazer parte do quotidiano de Angola, Guiné e Moçambique.
Sempre na senda de um “passado glorioso”, da exaltação da nossa História, e também por razões económicas – Angola era, é, talvez o país mais rico de África – V. Exª, Dr. Salazar, insistia na “defesa da Pátria”, e V. Exa., Dr. Marcello Caetano, excelente professor na Faculdade de Direito de Lisboa, não discordava uma linha da política ultramarina seguida por Salazar.
Em 1968, eu não era nada de especial, tinha vinte gloriosos anos, vivera já durante um ano em Hamburgo, na Alemanha e, na Faculdade de Letras de Lisboa, fazia parte da Direcção da Pró-Associação de Estudantes e do Grupo de Poesia e Canção da Faculdade. Muitas vezes eram da nossa responsabilidade as primeiras partes dos espectáculos semi-clandestinos do Zeca Afonso, do Adriano, do Fanhais, do Zé Jorge Letria. Eu dizia poemas do Pessoa, da Sophia, do António Gedeão. Deste último, ainda sei de cor a Lágrima de Preta. Ignoro se V. Exas, Salazar e Marcello, são muito dados a estas coisas da poesia, mas aí vai:
Encontrei uma preta que estava a chorar
Pedi-lhe uma lágrima para analisar,
Recolhi a lágrima com todo o cuidado
Num tubo de ensaio bem esterilizado.
Mandei vir as bases, os ácidos, os sais,
As drogas usadas em casos que tais.
Nem sinais de negro, nem vestígios de ódio,
Água, quase tudo, e cloreto de sódio.
Podem pois adivinhar de que lado político eu me situava. A PIDE já me tinha debaixo de olho e o meu processo na PIDE (podem consultar, Arquivo Nacional da Torre do Tombo, PIDE/DGS, procº. 9175 C7 NT 7555) é muito interessante e equivale às medalhas que, por bem, não ganhei na Guiné Portuguesa.
Os tempos tinham mudado, em finais dos anos sessenta do século passado cada vez mais pessoas e muita juventude, sobretudo a que frequentava as universidades, começava a contestar a vossa autoridade e a justiça das guerras em África.
E o vosso erro foi não terem entendido, para bem de Portugal e dos povos africanos, que a era gloriosa da Pátria portuguesa espalhada pelos quatros cantos do mundo pertencia a uma História de que nos podemos e devemos orgulhar, mas era apenas isso, o passado.
V. Exª., António de Oliveira Salazar e depois, a partir de 1969, V. Exª., Marcello Caetano, descartavam as hipóteses de negociações com os movimentos de libertação. E os conflitos não tinham solução. Não conseguíamos vencer os guerrilheiros em luta, nem éramos vencidos por eles.
O povo português, os povos africanos sofriam barbaridades. Em nome de quê, porquê, para quê? Vocês estavam a adiar o inadiável, o inevitável.
Em 1968, V. Exº., Dr. Salazar nomeia o então brigadeiro António de Spínola para governador e comandante-em-chefe das tropas na Guiné. Spínola, que fora tenente-coronel em Angola, apercebe-se da impossibilidade de se ganhar militarmente a guerra. A questão era política, sempre foi política e ao lançar a estratégia política de Uma Guiné Melhor António de Spínola pretende transformar o “inimigo em nosso amigo”. Consegue alguns resultados e o PAIGC treme. Spínola começa progressivamente a alicerçar a ideia de uma muito maior autonomia para os territórios ultramarinos, uma espécie de federação lusófona, e inicia estranhas negociações com o “inimigo” que, em 1970, se viriam a saldar pelo cruel e cobarde assassínio de três majores portugueses por guerrilheiros do PAIGC.
V. Exª., Dr. Salazar, tinha caído da cadeira de lona no forte de Santo António do Estoril, batido com a cabeça no chão e incapacitado, ainda sem acreditar, terminava o seu longo consulado ditatorial ao leme dos destinos tortos de Portugal.
V. Exª., Dr. Marcello Caetano, era um homem mais aberto e moderno. Mas não acabou com a ditadura, nem com a polícia política, nem com a asfixia da sociedade portuguesa. No que às guerras de África dizia respeito, foi muito mais “continuidade” do que “evolução”. Portugal permanecia num doloroso beco sem saída.
Até que em 1973, de início por razões reivindicativas e corporativistas que tinham a ver com promoções na carreira, um grupo de capitães, oficiais do quadro permanente, todos marcados pela inutilidade, irracionalidade e impossível solução das guerras de África, decide avançar para um golpe militar e depor o regime que governara Portugal a partir de 1926.
V. Exª., Dr. Salazar, desde 1970, dormia o definitivo sono dos injustos na sua campa térrea de Santa Comba Dão. E V. Exª., Dr. Marcello, foi exilado para o Brasil. As guerras de África iam acabar porque o problema tinha solução, era, sempre foi político.
O que veio a seguir já não é da vossa responsabilidade, sois apenas culpados por ter protelado, adiado até ao impossível, uma necessária solução política para os conflitos em África.
A descolonização, como sabem, foi um inenarrável desastre, as tragédias da guerra civil em Angola, os conflitos em Moçambique, os massacres em Timor, o fuzilamento de centenas de militares e civis africanos na Guiné, homens que tinham combatido ao nosso lado ou apoiado as tropas portuguesas, enfim todo um rosário de mágoas, dor e morte que não terminou com a independência desses territórios. Como foi possível, pós independência, que quase todos os mais destacados e heróicos comandantes da guerrilha do PAIGC também tenham sido mortos em lutas intestinas entre eles? Como é possível que hoje, ano de 2009, quase metade das mulheres da Guiné-Bissau estejam ainda sujeitas à excisão do clitóris, uma prática bárbara, atentatória dos mais elementares direitos da mulher, direitos humanos? Como é possível que hoje, 2009, em Bissau não exista uma única livraria?
Mas não foi para me debruçar sobre estes temas que vos escrevi. Vamos falar de nós.
(iv) Combatentes
Em Julho de 2008 tentei e consegui convencê-la a ir comigo a Fátima, ao segundo encontro dos camaradas da CCaç 4740, com quem estive em Cufar, sul da Guiné, durante dez meses. Fomos à missa (o que raramente acontece!) com muitos dos homens da companhia 4740 e ao almoço com eles e famílias. E a minha mulher entendeu por fim o que une estes antigos militares da Guiné. Compreendeu, em palavras simples, como somos amigos, entendeu a alegria que temos em nos reencontrar, em recordar, em nos sentirmos irmãos.
[ À esquerda, capa do livro do nosso camarada António Graça de Abreu, Diário da Guiné: Lama, Dangue e Água Pura. Lisboa: Guerra e Paz, Editores. 2007....
É isto, senhores Dr. Salazar e Dr. Marcello Caetano, que vos quero dizer, dar-vos a conhecer a evolução das nossas vidas.
Centenas de milhares de homens passaram pelas guerras de África. Quase nove mil combatentes, no melhor dos seus vinte anos, lá perderam a vida. “Malhas que o império tece”, ou melhor, malhas cerzidas por uma política cega, de que vocês os dois foram os principais fautores.
Os meus heróis são os soldados portugueses que tombaram para sempre numa guerra injusta tendo por horizonte as bolanhas, o tarrafo e o verde e vermelho da bandeira portuguesa, os meus heróis são esses guerrilheiros anónimos do PAIGC que caíram no seu campo de luta.
(v) A Guiné
O velho Confúcio, nascido na China antiga no ano de 551 a.C., disse mais ou menos o seguinte: “Se conheces, actua como homem que conhece, se não conheces, reconhece que não conheces. Isso é conhecer”.
Como, apesar dos meus 62 anos, conheço ainda tão pouco, devo confessar-vos, Drs. Salazar e Marcello, que neste blogue Luís Graça & Camaradas da Guiné tenho aprendido muito sobre o que aconteceu nos onze anos de guerra na Guiné e sobre esta essência tão obtusa de sermos portugueses.
Os testemunhos dos homens que viveram o conflito é sempre e naturalmente plural. Os nossos dois anos de Guiné tiveram cenários e tempos diferentes, as terras fulas de Bafatá e Nova Lamego (Gabú), o chão manjaco, com o Cacheu e Teixeira Pinto (Canchungo), Mansoa e o Morés, no sul, as terras do Tombali e do Cantanhez. Diversos espaços de luta, de excelente, extraordinária camaradagem e também de sofrimento. Ora, a Guiné dos anos 1964, 1967, 1970, 1972 ou 1974 não corresponde exactamente a um mesmo enquadramento logístico e estratégico. A guerra prolongou-se por onze anos. Depois, hoje escrevemos de memória, trinta e tal, quarenta e tal anos transcorridos. E a memória esquece, distorce, obscurece, exalta o entendimento.
Mesmo assim, muitos dos testemunhos dos ex-combatentes neste blogue Luís Graça & Camaradas da Guiné assumem-se como marcos fundamentais das nossas vidas, imprescindíveis para entender quem fomos e somos.
Recomendo-vos vivamente a leitura do blogue, Profs. Salazar e Marcello.
Transparece, no entanto, em alguns dos textos publicados no blogue, reflexo também de falsas ideias feitas em estratos da sociedade portuguesa, uma constante ideológica de assumir culpas, de lançar culpas para o parceiro do lado, de subestimar as forças militares portuguesas e, lógico, de sobrevalorizar o poder dos guerrilheiros do PAIGC. Política, má política.
Fomos obrigados a combater contra povos pobres que acreditavam lutar por um futuro mais risonho para as suas pátrias. Não fomos militarmente derrotados. Porque, quase sempre fomos bravos, “forte gente” com “fracos reis”, como diria o nosso Camões.
Mas, V. Exª., Dr. Marcello Caetano, com algum fundamento, estava assustado com o que acontecia na Guiné, a partir de Abril de 1973, com os mísseis Strela e com a debandada de Guileje. Em Lisboa, com censura nos jornais, sem liberdade de imprensa, corriam extravagantes boatos. Dizia-se de boca bem aberta, mas à boca calada, que os aquartelamentos portugueses no sul da terra guineense caíam uns após outros. Contava-se que um quartel, a 30 quilómetros de Bissau, havia sido tomado pelo PAIGC, com centenas de mortos. Em Junho de 1973, à noite, às escondidas, em muros da cidade de Coimbra, alguém escrevia : “se tem o seu filho na Guiné, considere-o morto.”
Em V. Exª., Dr. Marcello Caetano, a preocupação crescia. Em Junho de 1973, mandava chamar o Chefe do Estado Maior das Forças Armadas, general Costa Gomes, recentemente regressado da Guiné e perguntava-lhe:
“ – A Guiné é defensável e deve ser defendida?
– No estado actual, a Guiné é defensável e deve ser defendida.”
(in Marcello Caetano, Depoimento, Rio de Janeiro, Ed. Record, 1974, pag.180.)
A menos de um ano do 25 de Abril, Costa Gomes considerava a Guiné “defensável”, o que era verdade em termos militares. Sim, mas à custa de tantos sacrifícios!… Quanto ao “deve ser defendida” era a perpetuação da tese política da defesa cega das terras africanas do império.
A Guiné-Bissau tornou-se um país independente a 23 de Setembro de 1974 e logo depois Costa Gomes chegou a Presidente da República portuguesa. As malhas rotas que o império tece.
(vi) Conclusão
António de Oliveira Salazar e Marcello Caetano, Excelências
Espero que tenham lido com atenção esta minha despretensiosa carta. É apenas um desabafo do coração, mas espero que, graças ao fantástico e extra-terreno blogue do Luís Graça & Camaradas d Guiné, tenha chegado ao vosso mundo.
Nós hoje, somos ainda uns duzentos mil ex-combatentes da Guiné. Sexagenários e septuagenários, jamais esquecemos esses cada vez mais distantes dois anos das nossas vidas. Penso que não combatemos pela Pátria salazarista e marcelista mas por um Portugal e uma Pátria que nos circulava no sangue e no entendimento. Essa Pátria não nos pode ser negada. Era, é a nossa terra, eram, são as nossas gentes.
Com vinte e poucos anos, quase todos nós demos o melhor de nós próprios (às vezes a própria vida) numa guerra que não desejámos. Mas temos orgulho na nossa bandeira e nesse estranhíssimo sortilégio de se nascer português.
Homens, ex-militares da Guiné, somos hoje duzentos mil irmãos.
Saúda-vos, com pouca amizade, o António Graça de Abreu
____________
Nota do editor L.G.: